No livro ?O Gene?, lançado no Brasil pela Companhia das Letras, o médico e escritor Siddhartha Mukherjee traça os avanços
da genética e as mudanças que a sociedade deve sofrer graças a eles.
Há uma bela ambiguidade incidental no subtítulo do livro “O Gene”, do cientista Siddhartha Mukherjee.
“Uma história íntima” pode tanto se referir às razões que levaram o escritor a se
debruçar sobre a genética e suas descobertas – sua árvore genealógica compreende, do lado
paterno, pelo menos três parentes próximos com casos de esquizofrenia – como também pode falar diretamente
ao aspecto único e pessoalíssimo do DNA: somos todos moldados pelos nossos genes, o que há de mais monolítico
nos fatores que podem determinar nossas características.
Pesquisador workaholic, Mukherjee, que já havia brindado o mundo com uma história sobre o câncer em
O Imperador de Todos os Males, vencedor do prêmio Pulitzer em 2011, traz agora um relato minucioso que tem a intenção
pouco modesta de compilar em ordem cronológica todos os avanços a respeito da genética, mesmo admitindo,
ao final, uma história sem desfecho.
Das primeiras conjecturas aristotélicas a respeito da reprodução humana, passando pelas ervilhas de
Mendel, pela revolução de Darwin e pelo projeto genoma, até chegar aos dias atuais, o biólogo,
médico e professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que esmiúça as
particularidades das descobertas científicas em uma vida acadêmica humana, demasiadamente humana (veja o box
na matéria da Gazeta do Povo ), mostra, por meio de uma prosa erudita e sofisticada, que a genética tem a
capacidade não só de encantar, mas também de embriagar sociedades inteiras: o que começou com
uma tentativa de se livrar de doenças hereditárias logo se transformou em centros de eugenia e no pesadelo nazista
criado por Josef Mengele e seu charlatanismo médico.
Infelizmente, o livro peca em suas minúcias muito especializadas e pouco interessantes para um público leigo,
tornando-se excessivamente “científico” em suas páginas centrais.
No início de cada parte em que a obra se divide, o autor conta um pouco mais da história de sua família,
atormentada pelos transtornos mentais de dois tios e um primo. A narrativa se afasta do potencial melodrama e, de maneira
sensível e sutil, coloca a impotência do cientista frente ao mistério da vida. Mesmo com o modelo de Watson
e Crick, o projeto genoma, a clonagem e tudo o que se sabe sobre as células-tronco, sabe-se apenas que há um
fator hereditário para a esquizofrenia, mas até hoje não foi encontrado o gene causador do distúrbio.
Para todos os outros efeitos, a descoberta do gene é uma revolução que, segundo Mukherjee, sempre
terá o potencial de redefinir o modo como pensamos a nossa sociedade. O conhecimento de um “DNA defeituoso”
pode se chocar colossalmente com a bioética – para quem não se recorda, o professor e divulgador científico
Richard Dawkings causou furor em 2014 ao afirmar que dar a luz a bebês portadores da Síndrome de Down seria “imoral”.
Da mesma maneira, a terapia gênica, que introduz células-tronco para combater deficiências do DNA, encontra
uma barreira na moral dogmática de algumas instituições religiosas.
Mais importante do que isso, porém, é que o DNA, embora inescapável, não é determinante.
Na analogia do autor, não se trata de um planta baixa, mas de uma receita, e as interações entre as partes
interessam tanto ou mais do que a formação dessas partes. Mutações, fatores ambientais e uma intrincada
miríade de variantes colocam uma venda sobre os olhos da evolução, e tornam mais difícil responder
à grande pergunta: afinal, o que nos faz sermos como somos?
Em 2014, a atriz Angelina Jolie fez uma dupla mastectomia preventiva porque descobriu um defeito hereditário no
gene BRCA1, que aumenta a propensão ao câncer de mama em 87%. A notícia chocou o mundo pelo radicalismo
do procedimento, mas a decisão da atriz é uma consequência natural que a difusão do autoconhecimento
genético ao público permitirá. Nos Estados Unidos, a empresa 23andMe (referência aos 23 cromossomos
humanos) permite ao cliente que, por cerca de 100 dólares, receba um tubo de ensaio em casa. Basta cuspir no tubo,
mandá-lo de volta pelo correio e esperar. Uma lista detalhada de características genéticas, incluindo
a propensão para uma dezena de doenças, chega pouco tempo depois. Gradativamente, o gene, essa estrutura tão
íntima, vai também se tornando mais próximo de nós. Resta saber o que será feito com todo
o conhecimento que ele trará.
Deuses de carne e osso
Um dos trunfos da pesquisa de ‘O Gene’ consiste no processo de humanização dos cientistas deificados
ao longo da história. Entre picuinhas, fraquezas e outros sentimentos vis, Mukherjee pinta um quadro científico
demasiadamente humano. Confira alguns desses casos.
Mendel, o desprezado
O pároco tcheco Gregor Mendel nunca foi exatamente bom aluno, e como pároco era notadamente um desastre.
Seu artigo foi apresentado para pouco mais de quarenta pessoas, quase todos agricultores, que entenderam pouco ou nada dos
números apresentados. O trabalho foi esquecido por quase meio século. Em particular o botânico Karl Wilhelm
von Nägeli, cujo respeito Mendel ansiava mais do que qualquer coisa, tratou suas descobertas com uma frieza glacial por
não levar cientistas amadores a sério. O apoio de Nägeli teria antecipado em muitos anos as pesquisas da
área.
Francis Galton, o primo frustrado
A vida não era fácil para Francis. Seu primo, Charles Darwin, já era uma celebridade entre os cientistas
de sua época, Mendel já havia feito sua pesquisa, enquanto ele nunca chegou a alcançar uma excelência
acadêmica que o equiparasse em genialidade a nenhum dos dois. Suas pesquisas sobre hereditariedade por fim o levaram
para um caminho sombrio: Galton foi o primeiro a cunhar o termo “eugenia” e a sugerir que uma raça superior
de seres humanos pudesse ser criada a partir da combinação de genes bons. Como muitos, ele desconsiderou questões
de classe para sugerir que sua família, por exemplo, estava repleta de gênios. Suas ideias equivocadas influenciariam
muitos europeus, inclusive alguns que levaram a sério a questão de superioridade racial e acabaram fazendo uma
guerra. O resto vocês já sabem.
Linus Pauling, o pirotécnico
Se artigos modestos provocavam reações modestas, ninguém explorou o espetáculo na vida acadêmica
como Linus Pauling. Duas vezes vencedor do prêmio Nobel, o descobridor da distribuição eletrônica
dos átomos sempre foi midiático e, talvez por isso também, muito celebrado. Na década de 50, ele
apresentou o primeiro modelo da hélice do DNA. A maquete ficava coberta por um pano durante toda a palestra e revelada
apenas no final, sob uma salva de palmas. Aquilo empolgou outros cientistas, que se dispuseram a descobrir a verdadeira forma
do DNA. Eventualmente, Pauling ficou obcecado por vitaminas e declarou em vários programas de TV que viveria para sempre
graças a elas. Mas isso é outra história.
Watson e Crick, os bobos da corte
O trabalho de James Watson e Francis Crick teria sido mais rápido e eficiente se não fosse pela personalidade
caótica da dupla. Barulhentos, bagunceiros e sem qualquer reverência pelo establishment científico, Mukherjee
descreve os descobridores do formato do DNA como “dois bobos de uma corte de patetas”. Os futuros prêmios
Nobel de medicina incomodavam tanto os outros pesquisadores que foram deixados em uma sala só deles. A coisa chegou
às raias da rivalidade com a biofísica Rosalind Franklin, que, de temperamento difícil, deixou de contribuir
com a dupla e fez duras críticas aos primeiros modelos propostos.
Fonte: Gazeta
do Povo

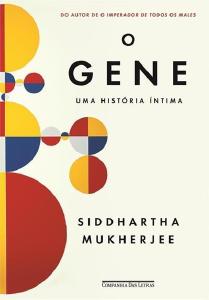 (Foto: Divulgação)
(Foto: Divulgação)



Envie para um amigo